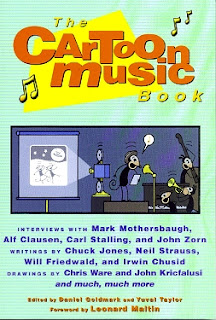Kimmo Pohjonen, músico finlandês, actuou há dois anos no Teatro Municipal da Guarda. A entrevista aconteceu como se segue:
O acordeão do “Diabo” (ou da “Besta”) é uma arma arremessada, sem dó nem piedade, contra os incautos espectadores. Vemo-lo e quase sentimos que daquele fole e daquelas teclas saem chamas que só se apagam com a nossa própria sofreguidão de ter mais e mais: texturas embriagantes, melodias perenes, ritmos improváveis em sobressalto. A electrónica é o parente directo do músico, que o ajuda a construir a arquitectura magistral da sua música. O acordeão é um órgão carnal mutante, extensão viva do corpo e da mente. Tal como a voz, rude, grotesca e bela, utilizada como grito expressionista que interpela a nossa consciência. Kimmo Pohjonen vive eternamente insatisfeito. Quer sempre mais, pelo que vive em constante demanda por novas descobertas sensoriais (“todos os dias procuro descobrir sons novos”, confessa). O rigoroso desenho de luz e vídeo de “Animator” é um complemento messiânico da linguagem artística de Kimmo. E assim “Animator”é brilho infinito, visceralidade incontida, energia transbordante sem fim que perdura no espírito do espectador longas horas após o fim da performance. É desta estirpe que é feita a grande arte deste início de milénio. É desta estirpe que é feita a criatividade visionária.
Umas horas antes do espectáculo, marcámos uma entrevista com o músico finlandês. A recepcionista do hotel telefona para o quarto de Pohjonen. Ele responde que desce num minuto. Puro engano. Desceu após 3 minutos e meio. Quem imaginava – como nas fotos – que era um nórdico alto e espadaúdo equivocou-se. Kimmo tem estatura média e ao longe parece até ter metade da idade que, realmente, tem. Parece um teenager saído de uma escola secundária: vestido com casaco de fato de treino cor de laranja, t-shirt verde, calças multicolores e botas Doc Martens vermelhas. Olhando para ele, ninguém imagina quanta criatividade este músico encerra na sua cabeça. Com a sua habitual crista subtil no cabelo, Kimmo volta e enganar-nos quando começa a falar: imaginávamo-lo um homem frio e sério, característica da cultura nórdica. Revela antes humildade e desarmante timidez. Simpático q.b., articula as palavras num inglês com pronúncia nórdica. Ao que parece, há uns anos mal sabia construir uma frase na língua de Shakespeare.
No final do concerto no TMG, Kimmo Pohjonen revelou que foi o final perfeito para a sua digressão em Portugal. E ele sorriu, quase como sinal de consentimento, quando lhe dissemos que a sua música invocava o sagrado. Mas uma pergunta ficou sem resposta no nosso íntimo: será que as 400 pessoas continuarão a ser as mesmas depois de ter visto o acordeonista diabólico (propositadamente sem aspas)?
Qual a sua opinião acerca daquela frase feita que diz que o Kimmo Pohjonen é uma espécie de “Jimi Hendrix do acordeão”?
Eu não alimento muito essa ideia, ainda que compreenda, de certa forma, o porquê da comparação. Foi um qualquer jornalista que achou que havia similitudes entre mim e Hendrix, lançando esta comparação. Mas eu sou eu, tenho o meu próprio percurso e a minha própria linguagem estética, e o Hendrix é o Hendrix. Procuro explorar os sons do meu instrumento e encontrar um caminho original para a minha música…
Tal como Hendrix fez com a guitarra eléctrica.
Exacto. Nessa perspectiva, acabo por considerar que a comparação é positiva e estimulante para mim. Houve uma altura em que me cansei da sonoridade do acordeão, quase desisti de o tocar por não me sentir identificado com ele. Mas depois comecei a explorar os sons inéditos do instrumento e outras portas de experiência se abriram para mim.
Foi nessa altura que sentiu a necessidade de juntar a componente electrónica ao seu instrumento?
Sim, através de amigos meus com quem tocava em antigas bandas. Comecei a desenvolver o interesse pela exploração de efeitos electrónicos. Era algo estranho porque entrava numa loja de música e pedia para experimentar pedais de efeitos e processadores digitais de guitarra no meu acordeão! As pessoas ficavam a olhar para mim como que a perguntar: “quem é este gajo e o que está a fazer?” (risos). Na verdade, não há assim tantos acordeonistas no mundo a utilizar tecnologia electrónica associada a este instrumento acústico.
Utiliza vários acordeãos ou recorre sempre ao mesmo?
Basicamente, utilizo sempre o mesmo acordeão. Acabei por desenvolver microfones especiais de captação e utilizar tecnologia de ponta para potenciar ao máximo as capacidades sonoras do instrumento.
Considera o acordeão como uma espécie de extensão do seu próprio corpo? Qual é a sua relação física e artística com este instrumento?
O acordeão é, de facto, um instrumento muito físico, até pelo seu peso, que pode chegar aos 16 quilos. É também um instrumento de impacto visual, quando o seu fole é esticado e manipulado. Por vezes sinto que é uma parte do meu corpo. Gosto desse contacto físico com o meu instrumento. Eu toco-o de forma muito chegada ao meu corpo e tenho quase um combate físico com ele quando estou em palco.
Ao longo de 20 anos de actividade musical já passou por muitas experiências e géneros: da folk à clássica, do rock à electrónica, música para teatro e multimédia. Porquê esta diversidade de abordagens e em que área se sente mais confortável a trabalhar?
Sempre senti necessidade de tocar em vários projectos simultaneamente, com vista a quebrar a monotonia e o cansaço que só uma banda ou um projecto poderiam provocar. Por isso me dá tanto gozo tocar música improvisada com amigos, como integrar um projecto de música electrónica e a seguir tocar com um quarteto de cordas. É algo natural para mim. Pode ser cansativo ter tantos projectos, mas é assim que eu gosto de encarar a minha actividade artística.
Numa entrevista disse que uma das características principais da sua música é o carácter libertário e independente. Quer explicar?
Eu faço música para mim mesmo, porque sinto necessidade de a fazer e porque gosto do que faço. Sem constrangimentos nem condicionalismos. Não faço música para agradar à audiência. Quero manter-me livre enquanto criador e quando estou em cima do palco. Preservar essa ideia de liberdade é muito importante para mim.
O Kimmo é um músico muito expressivo e intenso, quer a solo, quer em colaboração com outros músicos. A vertente de impacto emocional é, assim, um dos maiores atributos da sua música?
Talvez. Depende de quem me ouve e vê. A música expressa emoções, e esse lado da energia emocional interessa-me bastante. Há pessoas que dizem que o espectáculo mais emotivo em que participei é o Kluster com o Kronos Quartet, outros dizem que é o KTU, outros ainda o “Animator”. Não há consenso e ainda bem. Para mim, todos esses projectos são diferentes e em todos, por igual, me empenhei com a mesma energia.
Falando especificamente do seu projecto “Animator” que serviu de base à sua mini-digressão por diversas cidades portuguesas: é um espectáculo multimédia muito complexo com luzes, vídeos e sons trabalhados ao pormenor. Como foi o processo de criação deste projecto?
Sempre gostei de actuar a solo e sempre me interessei por juntar diversos elementos audiovisuais em palco, num trabalho estético que vai buscar ideias à dança e ao teatro contemporâneo. Por isso quis conceber um espectáculo onde tivesse essa forte componente visual de imagens, luzes e bom som. “Animator” é o resultado dessa combinação, que levou algum tempo a conceber, mas que corresponde às minhas expectativas. Em Helsínquia tive há algum tempo um projecto chamado “Manipulator”, no qual havia manipulação de imagens pela Marita Liulia e durava mais de 6 horas. Foi uma espécie de performance preparatória para “Animator”.
A sua música tem um lado muito imagético. Alguma vez compôs música original para cinema?
Humm, não tanto quanto gostaria. Houve uma curta-metragem realizada em Inglaterra para a qual fiz música, mas não foi um projecto muito ambicioso.
Se pudesse escolher, qual seria o realizador para o qual faria música?
É uma boa pergunta. Nunca pensei nisso, mas é difícil responder. Há tantos bons filmes e realizadores. Talvez Fellini.
Mas Fellini está morto!
Eu sei (risos). Mas acho que o imaginário de Fellini tem algo a ver com a minha música e teria sido fantástico ter podido trabalhar com ele. Quanto a cineastas vivos, talvez escolhesse Polanski. Há também uma série de bons realizadores japoneses…
E qual foi o último grande disco que ouviu recentemente?
Ahh, outra pergunta difícil! (longa pausa). Para mim a música tem de ser entendida como parte de uma grande escala de muitas coisas diferentes. Não me cinjo apenas a um género musical ou a um disco. Há tanta música boa por aí… Por exemplo, a electrónica é um campo muito criativo e no qual estão sempre a acontecer coisas interessantes, como os meus conterrâneos Pan Sonic. No carro estava a ouvir um disco muito interessante de um grupo que faz a fusão entre música do Mali e o jazz, os Kora Jazz Trio. Gosto de discos que tenham a combinação de diversos elementos distintos, seja na world music, no jazz ou na electrónica. Aprecio essa capacidade de certos artistas conceberem a fusão entre sensibilidades estéticas diferentes, da qual podem surgir obras muito interessantes. Mas não posso reduzir a minha resposta a apenas um disco, porque seria demasiado redutor.
Entrevista por Victor Afonso, em Outubro 2005
Publicado no blogue do
TMG